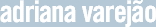NERI, Louise. Admirável mundo novo: os territórios barrocos de Adriana Varejão, 2001. In: Adriana Varejão. Takano Editora Gráfica, São Paulo, 2001.
Aventurando-me pelas dobras complexas da pintura de Adriana Varejão, tento imaginar o que significa ser esta artista tão precoce, diante de uma tela vazia, em seu estúdio, no início do século XXI. De sua posição assumida como brasileira, artista, pintora, como irá ela reagir à aporia que é a condição e o efeito do discurso da pintura em todo o mundo?
Considerando que a tela diante da qual se encontra está repleta, e não vazia.
pintura e exploração
Numa inversão do enredo histórico conhecido, classific o Adriana Varejão como uma exploradora do Novo Mundo às vésperas de empreender uma expedição para o Velho Mundo, confrontando a “completude” observada de territórios infinitamente mapeados e remapeados, com as elaboradas ferramentas e signos da História que tem a seu dispor. Ser um explorador é habitar um mundo de objetos em potencial com os quais se trava um diálogo imaginário. O espaço e o tempo do explorador são de uma natureza ativa, na qual os processos de exploração, mais que os frutos da viagem, se tornam história. Em seu diário, o que importa então não são tanto as descobertas que contém, mas a qualidade da viagem que revela1.
Dado o terreno altamente determinado do Velho Mundo, a exploradora Adriana Varejão entende que uma estratégia de ousadia ingênua ou insolente terminaria provavelmente em catástrofe; ao contrário, ela negocia as rotas conhecidas com a inteligência perversa do híbrido, descrente das histórias empíricas e das grandes narrativas. Sem mais fronteiras a conquistar, ela precisa de uma cartada forte no jogo duplo da imitação, entre as superfícies simuladas da pintura e a simulação da história. Sua inventividade irá provir nem tanto da compulsão por conquistar novos terrenos, mas do desejo de examinar e invaginar a espessura existente da história, de “rememorar” uma trama aberta de referências eidéticas à pintura e à história, passadas e presentes2. Ao fazê-lo, ela cria um mundo novelesco, no qual a relação entre as coisas não é mais obstinadamente naturalista/“científica”, mas antes especulativamente artificial/“psicanalítica”, em que o racional e o irracional, o abstrato e o visceral, o vazio e o cheio unem-se num estado vigoroso de atividade.
a exploração e o barroco:
“A pintura é minha raiz, da mesma forma que o Brasil”3: raiz é outra palavra para rizoma, termo da biologia que diz respeito a um crescimento vegetal persistente e rasteiro que, recentemente, tornou-se sinônimo de padrões de movimento cultural. Nessa breve declaração simbólica, Varejão sintetiza sua economia artística, equiparando a cultura da pintura à cultura da civilização em sua constante referência à iconografia popular do século XVII, que criara a imagem da América na Europa.
O barroco foi um veículo para o novo capitalismo expansionista da economia burguesa européia, com seu amor abstrato ao dinheiro e ao poder. Como forma de persuasão ecumênica, os povos indígenas foram convidados a interpretar o barroco. O resultado foi a iconografia sagrada do cristianismo ser transformada, “desnaturada” e secularizada num carnaval de imagens pagãs. Cada “episódio” na obra de Adriana Varejão reformula um combate antropofágico entre o ecumenismo do barroco europeu e o hibridismo inato da cultura brasileira, transformando em configurações sempre novas e provocativas o papel vital desempenhado pelo Desejo no progresso da Cultura, com todas as suas perversidades e contradições.
No início do século XX, o filósofo Eugenio d’Ors associou a irracionalidade exuberante do impulso barroco ao élan vital da natureza4. Nos anos 60, Giulio Carlo Argan tentou uma definição mais complexa, situando essa irracionalidade “natural” dentro de uma estrutura cultural consciente. Ao introduzir o conceito de razão “artificial” ou “social” como base para o desenvolvimento da cultura, Argan percebeu o homem como estando em controle do próprio destino, em vez de sujeito a forças naturais ou divinas. Desse modo, foi criada uma explicação convincente para o período barroco como prenúncio da sociedade moderna, com o homem no centro de uma rede de relações dinâmicas, e na qual a imagem, como produto das complexidades da mente humana, assumia um valor autônomo e intrínseco5.
Surgindo cronologicamente entre essas idéias historicizantes opostas estava o discurso de Henri Focillon sobre a transmutação artística, Vida das formas (1934), no qual ele descreveu a persistência do barroco não apenas em termos de forma, porém, o que é mais importante, de comportamento. A idéia liberalizante de Focillon, de que um paradigma poderia “funcionar” autônoma e fluentemente, em vez de fixo no espaço distendido da História, preparou o terreno para as teorias radicais do filósofo pós-estruturalista Gilles Deleuze, cujas metáforas de rizoma e dobra como forças vitalizadoras da cultura reformularam a paisagem do pensamento contemporâneo.
O estágio barroco permite igualmente reconhecer a constância das mesmas características nos ambientes e nas épocas mais diversas. Da mesma forma que o classissismo não é privilégio da cultura mediterrânea, o barroco não é apanágio da Europa de há três séculos (…) As formas [do barroco] vivem por si mesmas com intensidade… Soltam-se uma das outras ao se expandirem e tendem, de todos os lados, a invadir o espaço, a perfurá-lo, a desposar todas as suas possibilidades6.
o barroco e o ciborgue:
A obra de Adriana Varejão constitui uma presença anômala, às vezes monstruosa, na arte contemporânea, uma investigação complexa que evita os paradigmas dominantes atuais em favor de fontes anacrônicas que são figurativas, alegóricas, teatrais, excessivas e populares. Então por que, poderíamos nos perguntar, Varejão habita esse espaço “repleto” do barroco? Por um desejo pela obscuridade ou por uma predileção decadente pelo requinte? Pois o que mais poderia uma “prática barroca” significar hoje?
Como uma pérola sulcada e irregular, barocca, de onde o termo barroco se origina, ou a geometria igualmente característica da elipse, o “suplemento” de valor inerente ao barroco subverteu ou deformou a suposta ordem “natural” das coisas, a austeridade moral e idealizadora sobre a qual a ideologia burguesa de consumo e acumulação se baseou.
Entretanto, dado o modo como a complexidade tem sido tão completamente assimilada pela cultura contemporânea, para que Varejão possa trabalhar eficazmente com a intrincada retórica de prazer do barroco, ela deverá atuar como um agente duplo, um hacker, julgando, ameaçando, corrompendo seu centro e suas fundações: o espaço dos signos e da linguagem, esteio simbólico da sociedade e sua garantia de comunicação efetiva. Ela faz isso reafirmando a linguagem barroca, depois representando irrupções e colapsos anômalos por meio de estratégias pictóricas originais; primeiro se infiltra e depois congestiona os canais de comunicação, enviando uma pletora de sinais contraditórios com os quais seduz tanto quanto repele.
Nos anos 60, o crítico literário, romancista e artista plástico cubano Severo Sarduy escreveu uma fantástica bricolagem sobre o barroco, intitulada Escrito sobre un Cuerpo/Escrito sobre um Corpo, discorrendo livremente através de espaços heterogêneos e aparentemente desconexos, que iam do mimetismo animal à tatuagem, passando por travestimento humano, maquiagem, anamorfoses e trompe l’oeil. Num trabalho posterior, chamado La Simulación, ele direcionou seu discurso para uma nova zona extraterrestre, identificando a simulação como a força “biológica” no centro da sensibilidade barroca. Com esses dois trabalhos, Sarduy forjou uma equivalência primorosa entre a simulação enquanto projeto de hibridismo vivido — a experiência vertiginosa do “milagre” barroco, comum a muitas culturas colonizadas — e a ambivalência sobrenatural do ciborgue7.
Enquanto lia Sarduy, me veio à cabeça o thriller heterotópico de Ridley Scott, Bladerunner (1982). O filme é uma adaptação do romance de Philip K. Dick, publicado em 1968, Do Androids Dream of Electric Sheep? (O Caçador de Andróides), que revisita o drama existencial do Frankenstein de Mary Shelley no personagem do “replicante” ou ciborgue, uma criatura fabricada, superior aos humanos em tudo, exceto por sua memória e tempo de vida programados. O filme de Ridley Scott representou um triunfo da inventividade artística, fiel à visão de “modernidade complicada” de Dick, um excesso de estilos e sistemas conflitantes que propunham um antídoto às visões unilateralmente otimizadas do futuro que vieram a dominar a imaginação do público. O enredo culmina numa seqüência de lutas pirotécnicas mortais entre um policial humano, Deckard, e uma série de replicantes altamente desenvolvidos, que se amotinam numa tentativa de resistir à sua morte programada. Por fim, Deckard se encontra face a face com Roy, o último sobrevivente da série — o derradeiro, o mais sofisticado “modelo de combate” — dolorosamente cônscio de suas limitações inerentes. Em várias seqüências do tipo gato e rato, Roy leva Deckard à beira da morte e depois o poupa, como se para observar melhor o medo humano, ao mesmo tempo que sua própria vida, magnificamente construída mas ambígua em termos emocionais e programada de forma arbitrária, vai se acabando a cada minuto. A certa altura, ele arranca um prego enferrujado de uma parede e enfia-o na carne da própria mão, como se a dor pudesse adiar sua morte iminente.
(Minutos depois, sua vida se esvai de modo suave e transcendental e, com ela, suas lembranças vívidas se dispersam como “lágrimas na chuva”8.)
O ciborgue é a última criação do barroco, uma postulação de um híbrido de máquina e organismo. Em Manifesto for Cyborgs (1985), Donna Haraway propôs esta entidade híbrida como último desafio às trajetórias e fronteiras tradicionais da cultura ocidental, que identificou como “a tradição do capitalismo racista, de dominação masculina; a tradição do progresso; a tradição da apropriação da natureza como recurso para a produção de cultura; a tradição da reprodução do eu (self) a partir do reflexo do outro (...) os territórios de produção, reprodução e imaginação”9. Fazendo eco a seus predecessores, Haraway identificou, assim, uma cultura de oposição em formação, que era hipotética e sintética “por natureza”. A guerra de fronteiras entre natureza e tecnologia, sobre a qual falou com tanta eloqüência, pertenceria também a outras demarcações igualmente tensas: aquelas existentes entre gêneros, raças e culturas, ficção e não-ficção.
A patologia da obra de Varejão encontra forte correspondência nessa cultura de oposição do ciborgue, que inclui informações e lembranças inatas, recebidas e recém-imaginadas. Suas pinturas são os corpos “biológicos” híbridos ficcionalizados por Dick e teorizados por Sarduy e Haraway, manifestando-se como estroma artificial, com camadas densas e protéticas de tela simulando papel, azulejo, pele e carne. O uso que faz da habilidade e do material não é irônico; ao contrário, ela habita conscientemente a sintaxe histórica para poder expandir e subverter seu significado, ampliando, a partir do interior, sua aplicação cutural.
Para Varejão, a pintura é uma atividade intelectual, una cosa mentale, porque a percepção e a imaginação são atividades intelectuais baseadas na existência, na criação e na recriação de formas visíveis. Assim, ao apresentar a profundidade e complexidade retóricas da pintura como a própria personificação da artificialidade essencial da cultura e da sociedade, ela busca revelar um outro significado para o gênero e, com isso, um lugar novo para sua corporalidade no mundo espacial e temporal. Para dar a esse processo o maior grau possível de eloqüência, ela recorre a um vocabulário surpreendente de artefatos e fenômenos culturais — superfícies monocromáticas e craqueladas de porcelana da dinastia Song, fantásticas imagens “científicas” do Novo Mundo por ilustradores europeus, tatuagens e outras formas de cartografia física e mental, trompe l’oeil, elaborados painéis de azulejos decorativos, etc. — e emerge tudo isso na atmosfera e vida do corpo pintado. E, assim como Roy, a máquina de guerra ciborgue, suas tentativas enérgicas de reanimar o corpo da pintura, literalmente cortando, agredindo ou invaginando seus corpos engenhosamente concebidos a partir de material “vivo” e viscoso e imagens densamente sobrepostas, podem ser interpretadas como uma tentativa de demonstrar a vitalidade da própria cultura.
o ciborgue e a imaginação dialógica:
Segundo Focillon, o artista armazena formas herdadas e elabora as suas próprias num diálogo com formas do passado. Em conseqüência, essas novas formas exibem o traço, os múltiplos traços, das formas antigas entre as quais tomam lugar. Desse modo, as formas são mantidas num estado de metamorfose perpétuo, imóveis só na aparência, apreendidas no movimento que as leva de mudança em mudança, constituindo suas histórias autônomas.
Dez anos antes (embora seus estudos pioneiros não estivessem disponíveis até décadas mais tarde), o teórico literário russo Mikhail Bakhtin utilizou os termos “imaginação dialógica” e “cronotopo” (emprestado à biologia) para descrever a natureza ativa da relação entre o romancista e a história da escrita, uma relação no tempo e no espaço que vai contra as tendências homológicas da história. Recorrendo a seu vasto conhecimento de literatura, desde a mais clássica ao folclore popular, Bakhtin considerou o romance como uma espécie de supergênero, um híbrido de linguagens estruturadas conscientemente, cuja força consistiria em sua habilidade de tragar e ingerir, de “carnavalizar” todos os outros gêneros juntamente com outras formas estilizadas, mas não literárias, de linguagem10.
Assim como o ciborgue do capítulo anterior, o romance simula, sintetiza, buscando moldar sua forma a linguagens de outros gêneros, em vez de incorporar uma linguagem à sua própria forma predeterminada. Ele promove experimentações constantes, a fim de exibir a variedade, a cor e o imediatismo da diversidade lingüística existentes no discurso. Sarduy descreve o dialogismo como “uma interação de vozes, de ‘idiomas’, como uma coexistência de todas as ‘traduções’ que há num mesmo idioma: um ‘órgão’ em que as diferentes funções literárias, em forma de reminiscências, de paródias, de citações, de reverências ou irrisões instituem, ‘entoam e proclamam’ o Carnaval” — o espetáculo vibrante e pagão que forma o cerne do imaginário cultural na história da cultura brasileira11.
A relação ativa, aistórica, de Varejão com a história da pintura e da cultura brasileira distorce, da mesma forma, nossos modelos herdados. Criando a partir de fases diferentemente estruturadas mas que se misturam, ela “carnavaliza” os períodos e as figuras normalmente utilizados para definir a transmissão da cultura. Um empreendimento tão perverso requer uma erudição enorme, e também uma teoria capaz de sustentar o equilíbrio entre sua história aberrante e modelos históricos mais convencionais. Recorrendo a um vasto inventário de elementos e modelos, sua sofisticação visual é prova de um conhecimento detalhado o suficiente para lhe permitir usar relatos tradicionais da pintura e da cultura como fundo dialogizante, a fim de sustentar o contra-modelo que propõe. E este contra-modelo é motivado por uma teoria que consegue racionalizar não apenas as próprias subversões mas também os efeitos das tradições dominantes. Assim, a linguagem característica de Varejão traz, em seu âmago, uma oposição e uma resistência inerentes entre as forças que mantêm as coisas separadas e aquelas que se esforçam por deixá-las coesas, entre sistemas que são plenos e viscerais e outros que são vazios e abstratos.
Adriana Varejão equipara o desenvolvimento da pintura ao desenvolvimento da cultura brasileira, numa metáfora mais profunda do mundo moderno. Nos dialetos carnavalescos de seu barroco, vários estilos dominantes e contrastantes modulamse com frequência uns aos outros. Eles se entrecruzam, entrelaçando, às vezes, sensibilidades bastante distintas entre si: extrusões sangrentas rompem miragens de terras distantes; carnes brutas explodem de monocromos. O espectador é obrigado a investigar de que modo eles interagem em diferentes ritmos e, em seguida, como mapeiam as várias tragetórias sobre a superfície da pintura e da cultura. As formas se deslocam de um lado para o outro, desaparecem, reaparecem ou revelam novas formas quando são sobrepostas ou interligadas. No processo de decifrar certos trabalhos, como os que compõem a série Terra Incógnita (1992), o espectador vai aos poucos tornando-se consciente das extraordinárias dimensões espaciais e temporais que emanam da tela. Em outras obras, tais como as que constituem as séries das línguas (1995-98), dos irezumis (nome dado à forma japonesa tradicional de tatuagem por todo o corpo) (1997-99) e das azulejarias (1995-2001), esta densidade cronotópica se manifesta mais literalmente nas epigêneses dramáticas e viscerais da matéria irrompendo de superfícies lisas, ilusionisticamente “azulejadas”.
O cronotopo refere-se à interligação fundamental das relações temporais e espaciais, artisticamente assimiladas na literatura. (...) Ele expressa a indissulobilidade de espaço e tempo, a paixão pela equivalência espacial e temporal enquanto oposição polêmica ao “mundo vertical” da interpretação hierárquica e simbólica (...) No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do enredo e da história12.
a imaginação dialógica e a superfície:
"O azulejo faz parte da fisionomia de Portugal."
&nsbp;&nsbp;— Conde Anathasius Raczynski, carta à Sociedade Científica e Artística de Berlim, 1845.
O azulejo, ladrilho quadrado de terracota, é a forma de decoração mais amplamente empregada na arte nacional portuguesa, tendo sido utilizado de modo contínuo através de sua história, ao longo de um período que remonta à Idade Média. Ele teve seu vigor constantemente renovado, refletindo o ecletismo dinâmico de uma cultura expansiva e aberta ao diálogo. Abraçou a lição dos artesãos mouros, inspirado pelas cerâmicas de Sevilha e Valência; adaptou mais tarde as fórmulas ornamentais do Renascimento italiano, enquanto reconhecia o exotismo da porcelana oriental chinesa; depois de um período efêmero de inspiração holandesa, criou painéis com histórias fictícias em azul e branco que propiciaram uma assimilação perfeita destes elementos tão variados. Foi utilizado em lugares tão distantes do império português como o Brasil.
O azulejo tornou-se a pele interior de prédios religiosos e seculares, homogeneizando a arquitetura num todo pictórico ilusionístico e sem emendas. A opulência do século XVIII, abastecida por recursos que fluíam para Portugal vindos do Brasil e da Índia, foi expressa em painéis de azulejos de grande escala e suntuosa teatralidade. As histórias mitológicas e alegóricas, as paisagens e fantasias espirituosas eram típicas, mas painéis de flores puramente decorativos e ornamentos rococós retorcidos em policromo também surgiram em meados desse século. A indústria de azulejos portuguesa — assim como a de outros países europeus — entrou em declínio e por fim se extinguiu no início do século XIX. No Brasil, entretanto, manteve grande vigor, e foi graças sobretudo aos esforços dos brasileiros que se restabeleceram em Portugal nas décadas de 1860 e 1870 que esta indústria passou por um renascimento similar ao ocorrido no norte da Europa.
Através de sua obra, Varejão tem invocado a história rica e suscetível do azulejo, a começar pela série Proposta para uma Catequese (1993), na qual associa o milagre cristão da transubstanciação a fantasias canibais adaptadas das gravuras de Theodor de Bry em sua famosa antologia América, do século XVII. Em seu mais recente trabalho, as densas e lívidas inscrições de história, cultura, paisagem, geografia e corpo humano que povoavam suas séries anteriores tornam-se transcendentes e esquematizadas, organizando-se num vasto delírio azul e branco de padrões e imagens fragmentadas, representadas numa malha de tinta e tela para simular uma parede azulejada de proporções gigantescas. Este ambiente em trompe l’oeil, de tirar o fôlego, é intitulado simplesmente Azulejões, talvez em reconhecimento à natureza essencial deste suporte, no qual sistemas de representação opostos são retratados num estado permanente de contradição imaginativa e fértil.
superfície e ruptura:
Ao adentrar o espaço de Azulejões, sou engolida por um oceano semântico espaçotemporal. Aos poucos, as interrupções e anomalias nos padrões e nas imagens tornam-se evidentes, impelindo os ritmos de ruptura e descontinuidade contidos no centro do projeto da pintora para seu destino final — que parecia ser o lugar a partir do qual suas explorações começaram: a terra nullius, o vácuo, da tela inexplorada. Porém, um olhar mais atento revela que o vazio branco da tela é ele próprio uma ilusão astuciosamente pintada — e ele está repleto de linhas do desejo13.
... nessas disciplinas que (...) escapam em grande parte ao trabalho do historiador e a seus métodos, a atenção se deslocou das vastas unidades (...) para fenômenos de ruptura, de descontinuidade. Sob as grandes continuidades do pensamento, sob as manifestações maciças e homogêneas de um espírito ou de uma mentalidade coletiva, sob o devir obstinado de uma ciência que luta apaixonadamente por existir e por se aperfeiçoar desde seu começo, sob a persistência de um gênero, de uma forma, de uma disciplina, de uma atividade teórica, procura-se agora destacar a incidência das interrupções (...) Redistribuições recorrentes que fazem aparecer vários passados, várias formas de encadeamento, várias hierarquias de importância, várias redes de determinações, várias teleologias, para uma única e mesma ciência à medida que seu presente se modifica: de maneira que as descrições históricas se ordenam necessariamente pela atualidade do saber, multiplicam-se com suas transformações e não deixam, por sua vez, de romper com elas próprias. Unidades arquitetônicas dos sistemas (...) para as quais a descrição das influências, das tradições, das continuidades culturais, não é pertinente como o é a dos axiomas, das cadeias dedutivas, das compatibilidades. Finalmente, as escansões sem dúvida mais radicais são os cortes efetuados por um trabalho de transformação teórica quando ele “funda uma ciência destacando a ideologia de seu passado e revelando-lhe este passado como ideológico”14.
Em Escrito sobre um Corpo, reflexão e homenagem de Sarduy à galáxia artificial da pintura e da literatura, o autor nos desafia a uma “escritura sem limites”, a abandonar a “aborrecida sucessão diacrônica” e retornar “ao significado original da palavra texto — textil, tecido — considerando todo o escrito e por escrever como um só e único texto simultâneo em que se insere esse discurso que começamos ao nascer. Texto que se repete, que se cita sem limites, que se plagia a si mesmo; tapete que se destece para fiar outros signos, estroma que varia ao infinito seus motivos e cujo único sentido é esse entrecruzamento, essa trama que a linguagem urde. A literatura sem fronteiras históricas nem lingüísticas: sistema de vasos comunicantes”15.
Adriana Varejão desmonta a atual história da pintura mundial e, com ela, os vínculos hierárquicos estabelecidos entre objetos e idéias, a fim de construir uma teoria de equivalências que permitirá a estes objetos e a estas idéias serem incorporados e materializados em séries de espaço e tempo. Ela os libera, permitindo-lhes entrar nas poucas uniões que lhes são orgânicas, sem se importar quão aberrantes estas possam parecer do ponto de vista das associações comuns, tradicionais. Ela lhes permite tocarem-se uns aos outros em toda a sua “corporalidade” simulada e na múltipla diversidade de valores que exibem. E, assim, no próprio espaço em que uma imagem destruída do mundo havia estado, uma nova imagem do mundo se revela, permeada por aquela necessidade artística interna a que chamaremos “a vida das formas na arte”.
"O barroco remete não a uma essência, mas sobretudo a uma função operatória, a um traço. Ele produz dobras, infinitamente."
— Gilles Deleuze. A Dobra: Leibniz e o Barroco.
notas
1 CARTER, Paul. The Road to Botany Bay: An Exploration of Landscape and History. Chicago: University of Chicago Press, 1987, p. 25.
2 Uso este termo aqui no sentido que Edmund Husserl descreve em sua discussão sobre a história fenomenológica e a função eidética em The Origin of Geometry (1936): “À passividade daquilo que é primeiro despertado de modo obscuro e daquilo que talvez se manifeste com clareza cada vez maior, pertence a atividade possível de uma recordação, na qual a experiência passada é vivida de uma forma quase nova e quase ativa.”
3 Adriana Varejão em conversa com a autora, janeiro de 2001.
4 d’Ors, Eugênio. Lo Barroco. Madri: Aguilar, 1964.
5 Argan, Giulio Carlo. The Europe of the Capitals 1600-1700. Genebra: Skira, 1964.
6 FOCILLON, Henri. Vida das Formas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983, p. 33. Edição original francesa: La Vie des Formes. Paris: Presses Universitaires de France, 1934.
7 SARDUY, Severo. Escrito sobre um Corpo. São Paulo: Perspectiva, 1979.
8 Cena da morte de Roy Batty em Bladerunner, o Caçador de Andróides (1982).
9 HARAWAY, Donna. “A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980’s”, Socialist Review 80.
10 BAKHTIN, Mikhail. Questões de Literatura e de Estética. São Paulo: Unesp: Hucitec, 1990.
11 SARDUY, Severo. Op. cit., p. 97. Procuro fazer aqui uma equivalência entre o uso que Bakhtin faz do termo “carnavalesco” para descrever a forma de romance particularmente visceral e robusta de Rabelais, e a invocação de Sarduy ao Carnaval proclamado por Oswald de Andrade em seu histórico “Manifesto Antropofágo” de 1928 como base redentora da cultura indígena brasileira.
12 BAKHTIN, Mikhail. “Formas de Tempo e de Cronotopo no Romance (Ensaios de poética histórica)” in Questões de Literatura e de Estética. São Paulo: Unesp: Hucitec, 1990, p. 211.
13 “Linhas do desejo” é um termo que os arquitetos usam para descrever os caminhos irregulares tomados por pedestres, evitando subconscientemente as rotas oficiais a eles designadas.
14 FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Petrópolis: Vozes, 1972, pp. 10-11.
15 SARDUY, Severo. Op. cit., pp. 91-2.
-
HERKENHOFF, Paulo. Saunas, 2005. In: Adriana Varejão. Chambre d’échos/Câmara de Ecos. Fondation Cartier pour l’art contemporain/Actes Sud, 2005.
-
HERKENHOFF, Paulo. Glória! O grande caldo In: Adriana Varejão. São Paulo: Takano Editora Gráfica, 2001.
-
HERKENHOFF, Paulo. Pintura/Sutura. In: Adriana Varejão. São Paulo: Galeria Camargo Vilaça, 1996; reeditado em Imagens de Troca, Lisboa: Instituto de Arte Contemporânea, 1998.
-
NERI, Louise. Admirável mundo novo: os territórios barrocos de Adriana Varejão, 2001. In: Adriana Varejão. Takano Editora Gráfica, São Paulo, 2001.
-
OSORIO, Luis Camilo. Diálogo Enviesado com a Estética do Barroco Azulejões: Adriana Varejão volta com força ao Rio In: O Globo, 2006.
-
VAREJÃO, Adriana. Chambre d’échos / Câmara de Ecos. Entrevista com Hélène Kelmachter, 2004. In: Adriana Varejão. Chambre d’échos / Câmara de Ecos. Fondation Cartier pour l’art contemporain / Actes Sud, 2005.